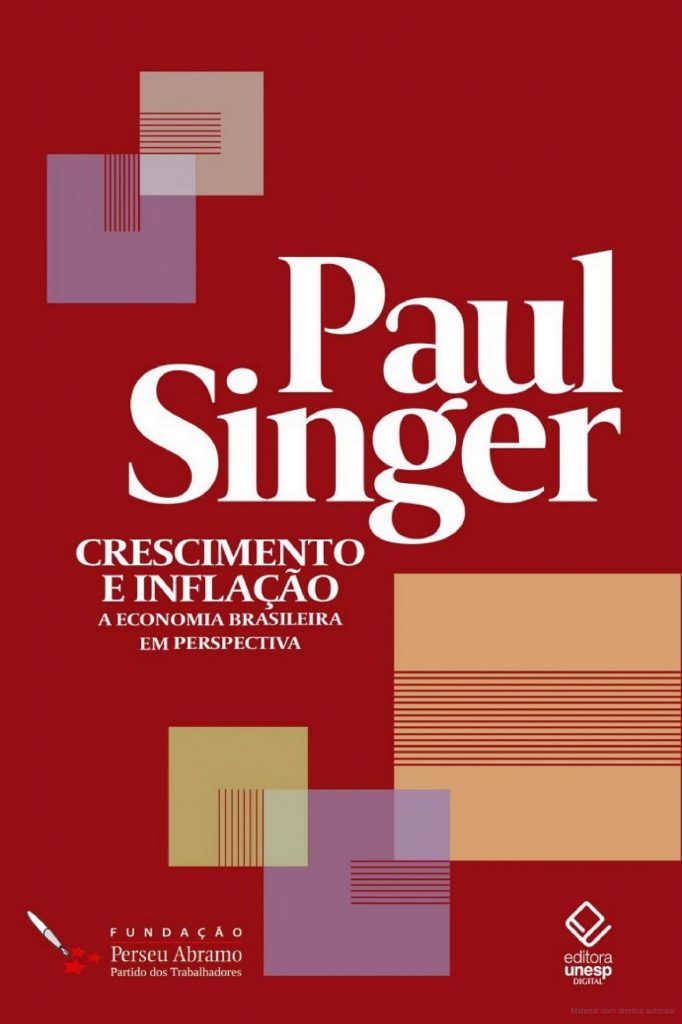
Os organizadores desta coleção Paulo Singer – André, Helena e Suzana Singer – me convidaram para fazer a apresentação do presente volume, o que muito honradamente aceitei. Todavia, considerando o perfil de seu autor, confesso minha dificuldade em construir uma apresentação protocolar, dotada da sisudez acadêmica que normalmente caracteriza esse tipo de texto. Considerando sua trajetória e seus tantos méritos, que extrapolam em muito sua capacidade intelectual, impossível, ao menos para mim, reduzir este introito a meros comentários e descrição sumariada dos trabalhos aqui incluídos.
Em poucas palavras, impossível falar dessa obra, sem falar do autor dela, o Prof. Paulo Singer. Daí que esta apresentação ganhará, de quando em quando, um tom mais pessoal, principalmente porque, além de rezarmos pelo mesmo credo e termos a mesma esperança utópica na capacidade do homem de construir um mundo melhor do que este, tive o privilégio de conviver com ele, como aluna, na pós-graduação do IPE-USP em 1985, e mais tarde como colega de docência, o que me permitiu perceber in loco que pessoa especial ele era.
Os trabalhos conjuntamente apresentados neste volume foram todos escritos entre 1972 e 1980, ou seja, cobrem o período que vai do último capítulo do assim dito “milagre econômico”, até o início daquela que passou a ser chamada, na literatura sobre economia brasileira, de “a década perdida” (os anos 1980). Dois livros estão reunidos aqui, a saber, A Crise do Milagre, publicado pela primeira vez em 1976, e Guia da Inflação para o Povo, de 1980. O primeiro livro, por sua vez, é um conjunto de trabalhos que contém a reprodução de livro anterior, O Milagre Brasileiro: causas e consequências, de 1972, além de três ensaios e cinco artigos mais curtos, sendo estes últimos escritos, todos eles, para o jornal Opinião, semanário brasileiro da imprensa alternativa, que, nos anos 1970, fazia clara oposição ao regime militar.
No livro A Crise do Milagre, o tema central é o milagre econômico, já que, começando pelo seu diagnóstico e consequências, elaborados no livro de 1972, os temas passam, nos ensaios e artigos seguintes, pela avaliação institucional e da perspectiva de classe da situação trazida pelo golpe de 1964, pelas contradições do milagre, pela recorrente questão inflacionária e pela análise da crise que começa ao final de 1973, esta última em meio a um alentado balanço de vinte anos da economia brasileira (1955-1975). Do ponto de vista do diagnóstico, Singer busca mostrar, já no livro de 1972, que o celebrado milagre não era afinal tão “milagroso” assim, mas assentava-se na péssima distribuição de renda – auxiliada em muito pelo regime autoritário que amordaçava os sindicatos – e na forma de inserção da economia brasileira na divisão internacional do trabalho, caracterizada, segundo nosso autor, desde 1968, pelo amplo influxo de capital estrangeiro do qual passou a dispor.[1] Nessa sua análise do início dos anos 1970, portanto, é a versão ufanista daquele período de elevado crescimento, tão a gosto dos militares, que estava sendo duramente colocada em xeque.
A postura corajosa não era nova na vida de Paulo Singer. Ao contrário. Quando entrei na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), no último ano do milagre, 1973, seu nome já era bastante ouvido. Conhecido intelectual e militante socialista, economista e professor muito reputado de nossa escola, ele, no entanto, não estava ali presente, aposentado que fora compulsoriamente, em 1969, pela ditadura militar. Certamente foi por conta de textos como esse – que claramente afrontavam a prepotência dos ditadores –, além da declarada simpatia pelo socialismo, que ele fora perseguido e compulsoriamente retirado da docência. Sobretudo para nós, jovens estudantes indignados com a tirania do regime militar, o Prof. Singer representava o símbolo da resistência daqueles que sabem que a busca de um mundo mais justo passa pela luta permanente das regras contra o arbítrio e pela vigília constante da razão contra a força bruta.
No caso de Singer, certamente partidário da máxima de Gramsci de que “a verdade é revolucionária”, essa vigília da razão significava a imperativa necessidade de que a conjuntura econômica e política fosse sempre avaliada tendo por base os fatos e dados de nossa realidade e a partir de uma análise teórica bem fundamentada. Foi por conta de sua firme adesão à economia política de extração marxiana, que Singer conseguiu demonstrar no livro de 1972, não só como o aperto salarial resultante da opressão política sobre os trabalhadores fora importante e mesmo decisiva para o milagre, mas, mais ainda, como tal constrangimento fora crucial para a debacle do processo inflacionário anterior, do início dos anos 1960, e que abriu o caminho para a fase de crescimento acelerado.[2] Singer lembra, por exemplo, que os sindicatos perderam sua autonomia diante do poder estatal, que as greves por aumento de salário foram praticamente proibidas e que já em 1964, ano em que o custo de vida subiu mais de 80%, foram proibidos os reajustamentos salariais em intervalos menores do que um ano. Segundo ele “o modo como essa política salarial foi posta em prática resultou numa redução ponderável do salário mínimo real e, por extensão, dos salários do pessoal menos qualificado, cujo nível está preso ao mínimo” (p. 72).
Mas Singer observa também que a distribuição do “aperto” tampouco era igualitária dentro do próprio grupo de rendimentos do trabalho. Sempre olhando os dados e tomando por base as fontes oficiais, ele assevera que é possível “confirmar a hipótese de que a redução do salário mínimo real e a limitação dos reajustamentos na renovação dos contratos coletivos de trabalho descomprimiu a escala salarial, reduzindo em termos reais os seus níveis mais baixos, sem afetar ou afetando muito menos os níveis mais elevados” (p. 76). Ou seja, não só a política econômica dos militares beneficiava muito mais “as classes possuidoras”,[3] em detrimento dos trabalhadores, como, dentre os próprios trabalhadores, prejudicava principalmente aqueles de níveis salariais mais reduzidos frente àqueles de níveis mais elevados.
Em poucas palavras, esse conjunto de alterações trazidas pelo golpe militar estava fazendo de um país já muito injusto do ponto de vista da repartição do produto, um país ainda mais injusto, onde os trabalhadores, sobretudo aqueles de renda mais baixa, além de ficarem constrangidos em seu direito de reivindicar melhores salários, estavam sendo bastante prejudicados na repartição dos frutos desse “milagroso” surto de prosperidade. E Singer traz dados que comprovam essa afirmação. Em tabela na p. 83, ele mostra que, entre 1960 e 1970, a renda da classe A, a mais elevada, cresceu 112%, enquanto a renda da classe E, a mais baixa, cresceu minguados 7,5%.
Do ponto de vista das consequências do milagre, para além da já mencionada elevação da desigualdade e do permanente constrangimento aos direitos dos trabalhadores – afinal a vitória no enfrentamento decisivo da crise do início dos anos 1960 coubera às “classes possuidoras” (p. 72) – vale destacar a visada certeira de Singer no que tange aos caminhos e descaminhos de nosso desenvolvimento. Na parte final do ensaio sobre vinte anos da economia brasileira (1955 a 1975), ele comenta a importância das multinacionais na definição da estratégia de desenvolvimento do país, a partir do domínio dos militares. Em sua avaliação, diferentemente do início de sua atuação, onde se visava principalmente o mercado interno, passou a interessar a essas empresas, a partir de suas bases aqui localizadas, também a exploração do mercado externo. Além do baixo custo da mão de obra no país – em muito auxiliado, como vimos, pela política de arrocho da ditadura –, as empresas aqui instaladas passaram a contar com avantajados incentivos fiscais às exportações, estratégia essa de política econômica que ia substituindo aos poucos o vigente modelo de substituição de importações – que assenta sua dinâmica no mercado interno –, por um modelo voltado para fora.
Segundo Singer, nessa mudança de estratégia, o Brasil teria cedido às admoestações dos economistas liberais, sobretudo aqueles que são membros de órgão financeiros internacionais, que desde sempre condenavam o modelo de substituição de importações. Com isso, em suas palavras “o país vendeu por um prato de lentilhas – a ‘ajuda’ externa – o seu direito de primogenitura no sentido de procurar alcançar a fronteira tecnológica e, um dia, tornar-se uma nação plenamente desenvolvida” (p. 145). Bem, independentemente de nossa concordância ou não com os termos do debate (dinâmica voltada para dentro ou para fora – mas era esse, de toda forma, o jargão da época), para quem olha hoje a economia brasileira, depois da desindustrialização precoce das últimas décadas, a frase não poderia ser mais verdadeira. Na medida em que o Brasil se aprofundou nesse caminho de ceder àquilo que o centro do sistema espera de um país da periferia, e que teve como cereja do bolo a estratégia explícita, a partir dos anos 1990, de abraçar o neoliberalismo e abandonar as veleidades de se tornar um país soberano – no período dos militares isso ainda estava envolto num espírito de época “desenvolvimentista” – o resultado só poderia ter sido esse vislumbrado por nosso autor.
Voltando à temática do milagre, é visível em toda essa substantiva análise efetuada por Singer, em seu livro de 1972 e nos demais ensaios e artigos que compõem A Crise do Milagre, sua incansável preocupação com a justiça social, a qual, no Brasil de então, caminhava no sentido contrário ao dos indicadores de produto e renda. Em outros trabalhos da mesma época, essa preocupação era igualmente visível. Como afirmei anteriormente, em 1973, quando entrei na FEA-USP, o nome do Prof. Singer já era muito ouvido e ele representava para nós o símbolo da resistência e da necessidade do enfrentamento à ditadura. Mas foi só em 1976 que entrei em contato com o trabalho intelectual do famoso professor.
Atendendo uma demanda da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, um grupo de pesquisadores do CEBRAP conduzira uma investigação sobre os diversos aspectos das condições de vida e trabalho das populações periféricas da metrópole paulistana. Postados em conjunto no livro São Paulo, 1975: Crescimento e Pobreza, lançado naquele 1976, os resultados dessas diferentes pesquisas, além da enorme quantidade de informações que traziam, num tempo em que as estatísticas não estavam a um clique da mão, eram devastadores quanto às consequências sociais do milagre econômico, e dentre os nomes importantes que constituíam a equipe de pesquisa, como Cândido Procópio e Fernando Henrique Cardoso, estava lá Paulo Singer.
Além de sua participação nessa importante coletânea, que causou enorme impacto à época, a recorrente preocupação de Singer com a justiça social era visível também em outros trabalhos do mesmo período, como Economia Política do Trabalho, de 1977 e Dominação e Desigualdade: estrutura de classes e repartição da renda no Brasil, de 1981. Mas antes de economista, marxista, professor, Paulo Singer era um militante socialista que acreditava, em primeiro lugar, que socialismo e democracia eram coisas que caminhavam juntas, de modo que a luta pela democracia era uma obrigação e uma necessidade. Nesse sentido, acreditava também que, sem uma distribuição minimamente equânime, não só do produto e da renda, mas também do conhecimento sobre o funcionamento da economia na qual vivemos – uma economia capitalista organizada pelo mercado e pelos preços – os trabalhadores estariam sempre muito longe de sua emancipação (e de uma verdadeira democracia), pois não entendiam nada, ou entendiam muito pouco daquilo que mais afetava suas vidas, ou seja, os temas econômicos.
Assim, ao lado de sua obstinada preocupação com a justiça social e de sua defesa da verdadeira democracia, caminhava também uma infatigável disposição didática, que não tivera como resultado apenas sua disposição de ser professor, mas, igualmente, seu intento de escrever sobre economia para os trabalhadores, em linguagem clara e simples, capaz de fazê-los entender as questões básicas que determinavam sua vida material. Em 1975, ele já publicara Lições de Economia Política, onde tratava, com esse espírito e intuito, de vários temas que dominam as discussões econômicas, como política fiscal, política monetária, distribuição de renda, crescimento e crise. Mas, ao final dos anos 1970, com o problema inflacionário avultando, era mister a produção de um texto capaz de fazer com que os trabalhadores participassem, defendendo seus interesses, dos intensos debates que tal fenômeno ia provocando na sociedade brasileira.
O segundo livro que faz parte deste volume, Guia da inflação para o povo, publicado originalmente em 1980, nasce daí. Em sua introdução, Singer diz esperar que ele seja uma arma dos trabalhadores na luta contra um estado de coisas em que “quando o debate é para valer, os maiores interessados, os trabalhadores, são deixados de lado” (p. 214). Tal situação, de seu ponto de vista, é possibilitada pela manutenção dos trabalhadores num perpétuo estado de ignorância, que permite que questões tão importantes como a inflação sejam tratadas por “técnicos sem mandato, cuja ideologia os leva a dar prioridade sempre aos interesses do capital” (p. 214). E para deixar bem clara qual é a intenção do livro, Singer conclui a citada introdução da seguinte forma: “Em suma, inflação é assunto grave demais para ser deixado só para economistas ou para qualquer tipo de burocrata diplomado. É preciso que os cidadãos tornados inteligentes intervenham em sua discussão com plena consciência do que está em jogo. Esperando ajudar nisso, acendemos esta vela, para não continuar apenas maldizendo a escuridão.” (p. 216).
E sendo esse então o objetivo, o Guia da inflação para o povo é um passo-a-passo bem estruturado para que os leigos possam acompanhar, com um mínimo de formação, as discussões sobre o tema. O texto se inicia com definições básicas sobre os conceitos de custo de vida e inflação e estende a discussão teórica até a questão da demanda por moeda, passando pela relação entre moeda e preços. Esse é basicamente o conteúdo dos cinco primeiros capítulos. Nos capítulos seguintes, Singer faz inicialmente uma discussão sobre as causas da inflação, traduzindo, em linguagem simples sua tese básica de que a inflação é invariavelmente um sintoma das contradições que movem o capitalismo. Na sequência, faz um diagnóstico da inflação brasileira e discorre sobre as formas de combatê-la, bem como sobre os limites das políticas anti-inflacionárias.
Ao longo de todo o livro, a linguagem é de fácil acesso, as frases são claras e o texto é fluido e recheado de exemplos. Tendo por objetivo instruir minimamente os trabalhadores, para auxiliá-los em suas lutas, Singer colocou em operação aqui, em grau máximo, sua capacidade didática. Por conta disso, para cabeças já preparadas, com conhecimento teórico e histórico muito superior àquilo que é possível colocar num texto com tais objetivos, a abordagem da complexa questão pode parecer, em determinados momentos, simplória demais.
Mas não se engane o leitor. A leitura de outros textos, em que a preocupação didática é menos presente, revela, por parte de Singer, uma compreensão fina e sofisticada do problema inflacionário, sobretudo no contexto da economia brasileira do final dos anos 1970, onde a indexação de salários e preços era a norma. Aqui mesmo, neste volume, temos indicações disso, no livro A Crise do Milagre. Por exemplo, todas as vezes em que menciona a questão da correção monetária, Singer antecipa observações que só viriam a ser devidamente exploradas à frente, pelos teóricos da inflação inercial: que apesar de sua suposta capacidade de “corrigir”, a correção monetária, a depender de sua dimensão, poderia servir de mecanismo de redução de renda real (p. 81); que via expectativas e assimetria no processo de reajuste dos preços, ela joga para a frente a inflação passada (p.159); que ela constitui uma restrição permanente à baixa dos níveis inflacionários, mas pode jogá-los facilmente para cima (p.202). Da mesma forma, ele indica também com muita convicção a dificuldade que via no funcionamento de mecanismos como os controles e congelamentos de preços (p. 162-163), pratica esta última, por sinal, que dominou as experiências heterodoxas brasileiras de combate à inflação ao longo dos anos 1980, todas malsucedidas.
Isto posto, vale ainda uma observação sobre o capítulo final do Guia. Singer faz aí algumas sugestões sobre como a população pode lutar contra a elevação dos preços. O texto é uma demonstração inequívoca da importância que ele atribuía à participação popular, o que casava perfeitamente com o apreço que tinha pela verdadeira democracia, não pelo “mal-entendido”[4] em que ela se constituía no capitalismo. Ele conclui esse capítulo dizendo: “A luta contra o aumento do custo de vida só será vitoriosa se puder contar com a participação da grande maioria do povo. É preciso que o povo possa abrir um diálogo amplo e democrático em seu próprio seio para exprimir seus verdadeiros anseios” (p. 260).
Mas o espírito democrático de Singer não era apenas teórico, era absolutamente concreto; ele o vivia e o praticava. Pude atestar esse seu predicado em várias ocasiões. Pessoalmente só fui conhecê-lo como aluna do curso de pós-graduação em Economia do IPE-USP em 1985. Naquele ano, quando descobri que ele iria ministrar um curso na pós-graduação, eu imediatamente me inscrevi. A disciplina versava sobre tópicos avançados de distribuição de renda e no início de junho daquele ano a Argentina lançava o Plano Austral, visando estabilizar monetariamente sua economia. A inspiração do Plano vinha das ideias sobre inflação inercial, que já circulavam no Brasil há algum tempo. Apesar de o tema não estar diretamente vinculado a sua disciplina, pedimos a ele, um tanto receosos, que fosse alterada a parte final de seu programa para discutirmos a experiência do país vizinho e a literatura sobre isso que se avolumava. Ele imediatamente acedeu permitindo-nos uma rica discussão que tão cedo não deixaria o centro do palco em nosso país, visto que, alguns meses depois, mais precisamente em fevereiro de 1986, seria lançado no Brasil o Plano Cruzado e, na sequência, vários outros planos de estabilização inspirados nas mesmas ideias heterodoxas.
Pouco mais de 10 anos depois, Singer escrevia para a Coleção Zero à Esquerda da Editora Vozes, coordenada pelo Prof. Paulo Arantes, o livro “Uma Utopia Militante”, já republicado nesta coleção. Convidou então o grupo de jovens professores que editavam a revista Praga, uma revista de estudos marxistas declaradamente inspirada na New Left Review, para que discutíssemos o que estava escrevendo. Eu saí da primeira dessas reuniões achando que ele iria nos dispensar. Não tínhamos deixado barato e tínhamos criticado o quanto podíamos todas as suas ideias e considerações sobre a economia solidária, o trabalho cooperativado e a crença que ele tinha em seu poder de transformação. Mas deu-se o contrário. Várias outras reuniões se seguiram e quando o livro foi editado, para minha absoluta surpresa, ele tinha sido dedicado a nós.[5]
Essa iniciativa é para mim o testemunho inequívoco não só de sua honestidade intelectual, mas sobretudo de seu militante espírito democrático. Foi muito bem acertada, portanto, a decisão, pelos organizadores da coleção Paulo Singer, de colocarem lado a lado os dois livros que compõem este volume. Para além de sua instigante análise, A Crise do Milagre foi escrito nos anos da ditadura, incluindo o corajoso O Milagre Brasileiro: causas e consequências, elaborado em plenos “anos de chumbo”, de pesada repressão. O livro em si é testemunho do enorme apreço que Singer tinha pela democracia, pois o preço a pagar pela audácia de contestar as interpretações dos ditadores podia ser bem elevado, como ele próprio já sentira. Por outro lado, o Guia da Inflação para o Povo, escrito já nos tempos mais amenos da “distensão lenta gradual e segura”, é concluído com um chamado para que o povo tenha participação política ativa em seu próprio destino, efetivando assim a verdadeira democracia que, para ele, ainda não existia.
A leitura
conjunta das duas obras é reveladora, portanto, não só da capacidade analítica
de Singer, firmemente assentada no approach marxiano, como igualmente de
sua profissão de fé na democracia e no socialismo. Em tempos tão distópicos,
como os que ora vivenciamos, é um grande presente podermos revisitar esses
clássicos.
* Professora titular (sênior) do Departamento de Economia da FEA-USP. Pesquisadora do CNPq
[1] No último dos cinco artigos aqui reeditados e originalmente publicados no semanário Opinião, em que faz um balanço do “modelo” que esteve por trás do milagre, Singer cita ainda o estímulo às exportações – aos quais voltaremos à frente –, a expansão do crédito ao consumidor e a instituição da correção monetária, que preservava a poupança, como elementos também integrantes da receita que produziu os seis famosos anos de elevado crescimento do produto (p. 201-202). O referido artigo foi publicado em 3 de janeiro de 1975.
[2] Singer reconhece que a política anti-inflacionária dos militares não se restringiu ao arrocho salarial, pois contou também com medidas nas áreas monetária e fiscal. Destaca, no entanto, a importância do ataque aos salários. Como informado, ele publica o livro O Milagre Brasileiro: causas e consequências em 1972 e diz, já, portanto, no quinto ano do suposto milagre, que “basicamente, a inflação é contida pelo controle governamental dos salários” (p. 81), controle, diga-se, que continuou, com maior ou menor sucesso, do ponto de vista dos objetivos de política econômica pretendidos, ao longo de praticamente todo o período da ditadura, até estourarem as greves dos metalúrgicos do ABC em 1979, já no período de abertura do regime.
[3] O termo é do próprio Singer (p. 72) e também muito utilizado por ele no artigo sobre a inflação no Chile na parte final de A Crise do Milagre.
[4] “Nesse sentido, a democracia capitalista se baseia num mal-entendido. O povo tem liberdade de eleger seus representantes, os quais, nessa qualidade, devem exercer o poder. Só que, [d]os assuntos que realmente afetam a grande maioria da população, ou seja, [d]a temática econômica (…) continua nas mãos daqueles que acreditam apenas na ‘verdade’ revelada pelos mercados, atuando como meros intérpretes do mesmo.” (p. 214)
[5] “Para Fernando Haddad, Leda Paulani, Isabel Loureiro, Ricardo Musse e demais companheiros que, com sua crítica perspicaz e amiga, ajudaram a tornar este livro mais inteligível”; estes os termos da dedicatória.



